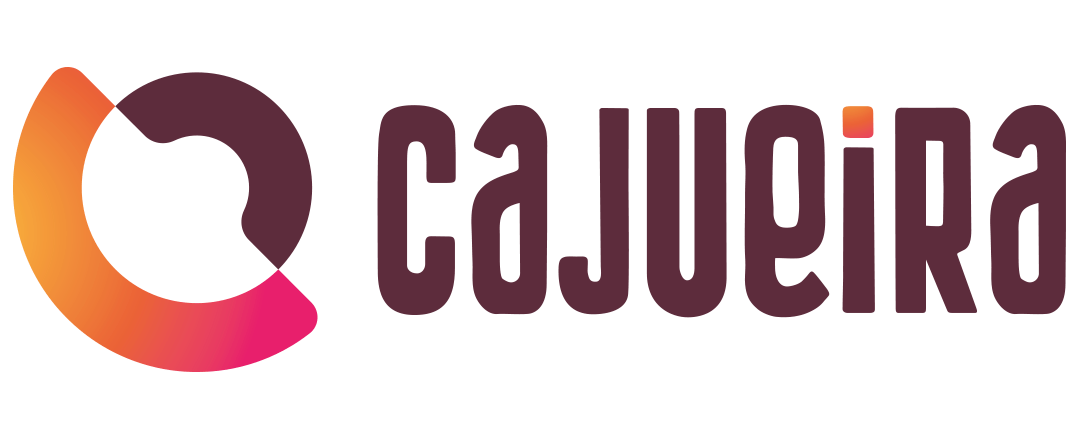Por Mariama Correia
Não sou muito fã de histórias de terror. Talvez meu passado de ex-crente ajude a explicar porque nunca consegui ver “O Exorcista” até o final. O fato é que poucas produções do gênero me convencem a tomar coragem e encarar meus medos.
“Gótico Nordestino”, do paraibano Cristhiano Aguiar, é uma dessas exceções. O livro é uma coletânea de contos de horror cheios de referências do Nordeste, como o cangaço, por exemplo. Mas as histórias não ficam presas a elementos da cultura popular ou a uma concepção única das paisagens nordestinas. Elas falam de medos reais e modernos, como vírus; trazem imagens do sertão, do litoral, de cenários rurais e urbanos; e passeiam pelo tempo até um Black Mirror nordestino no conto Firestarter.
Minha entrevista trevosa e darkzinha com Aguiar foi cheia de lembranças da Paraíba e de Pernambuco. Ele me contou sobre a infância em Campina Grande (PB), quando era um mini gótico nordestino, que vestia preto e ouvia rock. Também falamos sobre literatura, migração, medos e a existência (ou não) de um gênero de terror tipicamente nordestino.
Cristhiano Aguiar mora em São Paulo e é professor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Leia a nossa entrevista com ele:
Quando vi o título do seu livro pela primeira vez, lembrei de vídeos do TikTok que mostram jovens tentando ter um estilo alternativo em cidades do interior do Norte e do Nordeste. Tu eras um adolescente assim, meio gótico?
Sim, eu fui esse adolescente meio gótico. Eu morava em Campina Grande. Teve uma época que eu me vestia todo de preto, ouvia muita coisa como rock gótico, The Cure, Type O Negative, metal.
Entre os 14 e 16 anos, eu descobri toda uma literatura de histórias em quadrinhos, como Sandman, Hellblazer. Também a obra do Edgar Allan Poe e Lovecraft, e as coisas brasileiras, o Álvares de Azevedo, principalmente, e o Augusto dos Anjos.
A poesia de Augusto dos Anjos para mim é muito divisor de águas. Eu estava no colégio, no ensino médio, quando o professor de história declamou “Versos Íntimos”. Fiquei completamente fissurado. Porque era um negócio trevoso e uma coisa que mostrava as dimensões sombrias da existência.
Augusto dos Anjos abriu pra mim essa dimensão do sombrio que existe no ser, no corpo que um dia vai sofrer essa ação de um tempo. Escrevo desde criança, meu primeiro conto publicado foi aos 11 anos de idade. E, nessa época, eu já escrevia coisas muito ligadas a essa coisa do gótico, do horror.
O livro nasce dessas primeiras experiências na escrita ligadas ao terror?
Entre 2018 e 2020, e ali na véspera da pandemia, entrei numa crise de ordem pessoal. Eu comecei a entender que o que eu estava produzindo até então não expressava plenamente o que buscava como artista.
Eu precisava voltar para aquele adolescente e assumir que sou um autor também de literatura fantástica. E é daí que nasce o “Gótico Nordestino” e outras coisas que eu estou escrevendo. Dessa coisa de reatar com esse menino de Campina, com elementos dessa infância e adolescência nordestina, elementos da oralidade, da tradição, das histórias de malassombro, que são muito fortes.
Como tua obra se relaciona com as tradições da cultura popular?
Meu livro anterior de contos chama-se “Na outra margem, o Leviatã”, que, embora fale do Nordeste também, é muito sobre São Paulo. Ele é muito uma forma de traduzir simbolicamente o impacto da minha imigração, saindo do Nordeste e vindo para São Paulo. A cidade é vista como um labirinto e a loucura, que também está simbolizada nessa figura bíblica do Leviatã.
Eu sentia que não queria escrever mais sobre São Paulo. O “Gótico Nordestino foi escrito na pandemia, quando eu estava trancado, não podia pegar um avião para Campina Grande. Mas, de maneira visceral, eu precisava voltar simbolicamente para casa.
O livro é, então, uma volta narrativa, um retorno simbólico ao passado, da imaginação, de resgate da oralidade. Vem do fato de que eu cresci ouvindo minhas avós contando histórias da Bíblia, ambas evangélicas, do meu amor pela poesia popular, pela literatura de cordel, da minha fascinação por mitos, lendas, pelo imaginário popular.
Quando a gente fala de estereótipos sobre o Nordeste na Cajueira, combatemos muito essa ideia de que tudo o que nordestinos produzem precisa ser marcado pelo regional. Como se todo livro ou filme de terror feito por nordestinos tivesse que ter cenários do sertão, por exemplo. Mas, de fato, há muitas produções que assumem a regionalidade. Existe um terror nordestino? Seria diferente de um terror hollywoodiano?
Tem realmente um boom, nos últimos anos, de uma produção de literatura, de narrativas fantásticas e, em especial, do terror do Brasil. Na literatura e no audiovisual. E o Nordeste é um desses polos.
Dependendo do que o realizador quer, pode ser que ele faça um slasher, aqueles filmes de serial killers, que se passa no Recife ou que se passa em Pombal, no sertão da Paraíba, seguindo os códigos da linguagem hollywoodiana.
Quer dizer, não é porque está em Pombal que, necessariamente, aquela linguagem se transfigura automaticamente pelo lugar. Então, eu acho que o terror não depende, necessariamente, das circunstâncias do lugar, mas da linguagem que aquele realizador escolheu para expressar seu trabalho.
Agora, claro, na hora que você tem uma curta-metragem em que todos os atores são pernambucanos, por exemplo, o sotaque já ressignifica tudo. O lugar também ressignifica. Porque 90% dos filmes de serial killers se passam em Nova York, em Los Angeles. De repente, um que se passa em Pombal ou no bairro do Pina, onde eu morei, no Recife, ressignifica, mas isso não é o suficiente para você dizer que é um novo terror essencialmente nordestino.
Há uma certa obsessão pela nordestinidade?
Exatamente. Tem que botar um chapéu de cangaceiro (risos). Isso é uma coisa que sempre me incomodou nos meus 11 anos morando no Recife. Há uma obsessão pela pernambucanidade, há uma obsessão pela nordestinidade, e ela tem um lado bom e ruim.
O lado bom é que a gente está preservando as nossas tradições. A gente tem uma identidade, mas às vezes essa identidade nos aprisiona numa caixa. Essa caixa é confortável para o outro, que quer nos colocar num estereótipo, e para nós mesmos, porque ela nos dá segurança do que somos.
Também tem que pensar que essa cena do terror, por exemplo, tem um contexto maior que é o brasileiro e um diálogo latino-americano. Eu sempre digo que sou um autor brasileiro e latino-americano. E, claro, com sotaque e vivência cultural nordestina.
Quem são as vozes nordestinas que fazem produções de terror que a gente precisa conhecer?
Tem a galera do Vermelho Profundo, lá na Paraíba. No Rio Grande do Norte, a obra do Márcio Benjamim. Tem também a Isabor Quintiere e a galera do Recife Assombrado.
Ainda nas referências nordestinas, podes falar mais do também paraibano Augusto dos Anjos. Tem um paralelo entre a tua obra e a dele?
O Augusto dos Anjos é uma voz inclassificável. Porque ele é meio que um ponto de convergência de muitas das poéticas do século 19. Ele, ao mesmo tempo, é positivismo, simbolismo, naturalismo, tem elementos do parnasianismo, elementos românticos e góticos dentro dele.
Para mim, ele é a última grande voz do século 19, mas no século 20. E, por causa disso, nem pertence a um século nem ao outro. E ele estar nessa encruzilhada é muito importante pra mim porque eu cada vez mais me sinto na encruzilhada, que é um ponto criativo pra mim.
O meu livro, que saiu em 2018, foi muito menos lido porque algumas pessoas não sabiam se era um romance ou um livro de contos. No “Gótico Nordestino” tem todo um debate se era gótico, terror ou não.
Tem um soneto do Augusto dos Anjos chamado “O Morcego”, em que o eu lírico está pendurado numa rede, tipo no alpendre de casa, aí entra o morcego e fica sobrevoando. Ele fica aterrorizado com o morcego. E tem uma hora que no final ele vai dizer assim, é “a consciência humana este morcego”. Ele está reescrevendo “O Corvo”, do Edgar Allan Poe. Mas ele faz uma coisa que o Poe não pode fazer: ele tem uma angústia existencial, deitado numa rede.
“Gótico Nordestino” foi lançado na pandemia. Era uma reflexão sobre os medos desse momento?
A pandemia foi realmente esse start de, tipo, todos esses medos e essa busca por sobreviver. Nesse sentido, ele é um livro pandêmico. E do início ao fim, ele comenta a política, a ascensão da extrema direita. Mas eu tive uma percepção muito recente, de que tenho usado muito a estética do horror para dar conta de traumas na minha vida pessoal.
No livro tem um trauma coletivo da pandemia. E tem o fato do adoecimento e da vida terminal do meu avô, que acabaria morrendo depois. Ao longo do processo de escrita, um dos meus melhores amigos morreu, inclusive dedico o livro à memória dele. Então, hoje eu vejo que o tom do livro é de alguém que estava elaborando um luto.
Do que você tem medo hoje?
Eu não gosto de olhar pra mim mesmo. Eu tenho medo da minha própria imagem refletida, da minha imagem multiplicada. Meio vampiro, assim. O vampiro de Bodocongó (risos), mas eu gosto de alho.
Eu acho que tenho medo também da perda de mim mesmo. Da dissolução de mim. Eu descobri recentemente que talvez tenha medo da loucura, do enlouquecer. Eu tenho medo de beterraba também (risos). Eu abomino beterraba. É o meu alho, talvez. Vampiros modernos não gostam de beterraba.